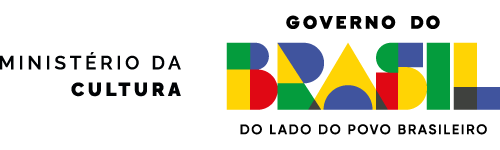Dia 07 de abril de 2024, último dia da 32ª edição do Festival de Curitiba, me dirijo à performance-ritual ÜHPÜ na Casa Hoffmann. Vinha folheando a revista do festival durante a semana e me deparei com a recomendação, que constava na página 118 da revista, de não praticar atividades sexuais, consumir bebidas alcóolicas, nem alimentos fritos ou assados pois “o cheiro poderia atrair espíritos obsessivos”. De cara, minha curiosidade foi despertada. Afinal, se tratava de uma representação de ritual – no sentido de uma mimese do que ocorre nas cerimônias indígenas das etnias Ye’pá Mahsã (Tukano) e Huni Kuin – ou realmente atravessaríamos ali, dentro da Casa Hoffman com os pés fincados no asfalto e um teto sob as cabeças, a experiência autêntica do ritual “quase em nada diferente daquela que a etnia tukano conduz na mata fechada”?

É interessante como a questão da autenticidade, formulada pelo filósofo alemão Walter Benjamin em 1936 no texto A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, apareceu tão espontaneamente ao questionar os limites e as possibilidades de transpor a experiência “autêntica” do ritual amazonense para o Festival de Curitiba. O que tem Benjamin a dizer sobre rituais indígenas e performances no Brasil de 2024? Talvez seja o alicerce demasiado europeu que as universidades brasileiras ainda nos oferecem poluindo minhas ideias, mas eu acredito que Benjamin tem algumas contribuições significativas sobre o tema.
Nesse texto, Benjamin introduz seus conceitos de aura, valor de culto e valor de exposição a fim de melhor compreender o papel da obra de arte em um período no qual é possível reproduzi-la tecnicamente e a distância diante dessa obra é diluída. Essa distância é diluída precisamente pelo fato de que ao acessar suas reproduções, sua aparição deixa de ser única. A hipótese benjaminiana tem como premissa os valores de culto e de exposição da obra de artes. Partindo de uma origem quase mítica, o filósofo afirma que as primeiras produções artísticas estavam à serviço da magia e por isso deveriam manter-se ocultas, acessíveis somente aos iniciados naquele culto. Em contrapartida, cito Benjamin: “com a emancipação das práticas artísticas singulares do seio do ritual, crescem as oportunidades para a exposição de seus produtos. […] Embora a princípio uma missa talvez não seja menos apropriada à exposição pública do que uma sinfonia, a sinfonia surgiu, porém, no momento em que sua disponibilidade prometia tornar-se maior do que a da missa”. A obra de arte se situaria, portanto, na dialética entre seu valor de culto e seu valor de exposição.
Algo mágico e aurático no fato de se estar na presença de uma aparição única, se perde. Em compensação, existem ganhos no que diz respeito à democratização do acesso a essa obra, portanto, podemos falar em termos de uma dimensão política da reprodutibilidade de uma obra. Nas palavras de Benjamin: “No momento, porém, em que o critério da autenticidade fracassa na produção artística, a totalidade da função social da arte é transformada. No lugar de sua fundação sobre o ritual, esta deve fundar-se em outra práxis a saber: a política.”
Tendo feito esse breve passeio pela filosofia alemã, voltemos à performance-ritual ÜHPÜ. Conduzido pelo xamã Bu’ú Kennedy Ye’pá Mahsã – também diretor da performance –, o ritual é descrito como uma liturgia de cura baseada no consumo de ayahuasca (bebida com efeitos psicoativos que provocam alterações no estado de consciência ou, nas palavras dos participantes, “expansão da consciência”). Assistimos à performance desse ritual como voyeurs e nenhuma ressalva ou distinção é feita entre quem seguiu a dieta e quem desrespeitou a recomendação. Durante a performance, não houve uso da bebida por parte dos performers nem dos espectadores, mas devido à iniciação no ritual e na intimidade com os efeitos provocados, os membros do elenco (Txana Bake Huni Kuin, Thatiane Porto, Ton Brasil, Dara Campos, Ney O Virgem, Thalita Olímpio e Luiz Davi Vieira) eram capazes de simular a cerimônia mesmo sem o uso da substância. A apresentação é dividida em momentos marcados por percussões, cantos (vocalizações ou músicas em português), interações somente entre os participantes da performance, e momentos de interações com o público: seja dançando em roda ou promovendo “cirurgias espirituais” de mãos e pés de alguns espectadores. Todos os momentos são conduzidos pelo xamã e, fora o momento da dança circular – que é opcional a participação –, os espectadores se mantêm sentados assistindo à apresentação em uma roda de cadeiras e almofadas ao redor do elenco.

Se seguirmos concordando com Benjamin, a recepção de toda obra é mediada por um espaço e tempo histórico. Dessa forma, ao deslocar a performance-ritual em questão de seu contexto histórico-espacial, algo de aurático se perde na travessia. Se já não podemos avaliar mais essa obra quanto ao critério de autenticidade, avaliemo-na, portanto, a partir de sua práxis política. A começar, pela semiótica: no centro da sala, assistimos a quatro homens brancos em cuecas brancas performarem o transe tal como na experiência com ayahuasca, catatônicos ao longo da apresentação; Três jovens, duas figuras femininas brancas e um indígena, vestindo longos vestidos, calças compridas e/ou lenços, tocam instrumentos, dançam e cantam a fim de potencializar o transe dos homens de cuecas; E o xamã, figura mais velha, no centro da cena ou circulando por entre os participantes, conduzindo o ritual. O fato de assistir a essas figuras femininas e/ou indígenas trabalhando – durante todo o ritual – para potencializar o transe dessas figuras masculinas causa uma inquietação. Parece haver uma divisão sexual e racial do trabalho que, distante do contexto histórico que fundamentam essa prática xamânica, chegam como estranhas ao meu olhar ocidentalizado e já familiarizado com a subalternidade dessas figuras na organização social. O inquietante nisso tudo é justamente encontrar ecos dessa familiaridade opressiva, em um ritual que, à princípio, parece tão infamiliar para mim.
Creio que toda performance tem um quê de ritual: a forma como os objetos que serão manuseados estão dispostos pelo espaço, a escolha da vestimenta, a ordem em que se realizará determinadas instruções e a forma de atribuir sentido a uma ação a princípio desprovida de sentido, são só alguns exemplos de parentesco entre uma atividade e outra. Da mesma forma, creio que todo ritual tem um pouco de performance. Mas o que tem exatamente de performance na representação de um ritual? Nesse sentido, ÜHPÜ brinca com essas barreiras ao propor um espetáculo no qual não conseguimos amarrar, dentro desses binarismos, no que consiste exatamente aquilo que estamos presenciando. Não importa se os participantes estão sóbrios ou fazendo uso de substâncias naquele momento. A pergunta aqui deixa de ser pela verdade da performance, mas pelo que ela busca fazer acontecer ao deslocar essa prática – oculta em meio às matas amazônicas – para o encerramento do Festival de Curitiba.

Durante o debate que sucedeu à apresentação, foi possível compreender que o intuito de emancipar o ritual de seu valor de culto, era movido pelo desejo de fomentar e popularizar o debate em torno do uso de ayahuasca para práticas artísticas, de cura e promover um contato com espiritualidade, transpondo as atividades que eles já faziam na cerimônia, para a cena teatral. Essa transposição nos faz repensar o que entendemos por teatro ou performance e nos convida a buscar outras ferramentas para conceber essa performance em um sentido mais expandido. De alguma forma, a convocação por uma expansão da consciência parece operar também no sentido da expansão desses limites da cena. Mas ao mesmo tempo que é um exercício interessante aproximar a prática da performance com o ritual, também é importante nos perguntar o que distingue uma da outra. O que resta de performance quando o ato em questão está sendo representado? O que resta de ritual, de culto, à medida em que se desmistifica e expõe essa cerimônia em cena? O que acontece quando traímos aquilo que deveria se manter invisível, oculto e longe dos não iniciados? Se é possível mencionar ganhos com esse deslocamento, é possível também apontar o que se perde quando se remove a floresta, o pé na terra, a fogueira ao centro – toda a interação com os elementos naturais –, para além de qualquer romantização? E o que se perde, é negociável?
Além da discussão em torno da ayahuasca, é parte da pesquisa dos participantes a interação entre indígenas e não indígenas na construção de cerimônias xamânicas. Penso que, nesse sentido, seja interessante investigar para além da consciência – seus limites e possibilidades de expansão –, o que mobiliza e sensibiliza os inconscientes ali presentes. Se é verdade que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, como é possível pessoas que partem de estruturas linguísticas tão distintas criarem uma malha comum por onde possa fazer fluir uma rede de afinidades? Se isso já é um desafio entre os iniciados não-indígenas e indígenas, imagina para nós, voyeurs dessa cerimônia não iniciados no ritual. Me parece que os desafios que se colocam aqui, para além dos que movem as pesquisas dos participantes, são: como não trair o invisível? Como criar um círculo de imersão entre os presentes, sem um ponto de partida em comum, e tendo como fundo matrizes tão distintas? Como fazer os não-iniciados verem e sentirem, aquilo que só é sensível e visível, aos corpos marcados pelo ritual?

O ritual ÜHPÜ foi realizado no 32º Festival de Curitiba durante os dias 6 e 7 de abril de 2024.
FICHA TÉCNICA
Direção: Bu’ú Kennedy Ye’pá Mahsã; Assistente de Direção: Txana Bake Huni Kuin; Elenco: Bu’ú Kennedy Ye’pá Mahsã, Txana Bake Huni Kuin, Thatiane Porto, Ton Brasil, Dara Campos, Ney O Virgem, Thalita Olímpio e Luiz Davi Vieira; Coordenação de Produção Artística: Luiz Davi Vieira Gonçalves; Produção: Ana Carolina Souza; Fotos: Cesar Nogueira e Alonso Junior. Companhia: Tabihuni (@tabihuni4)