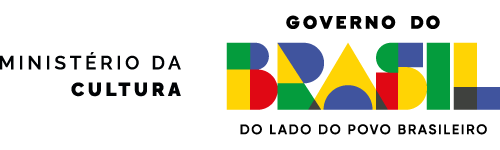Por Sandoval Matheus
Milton Cunha é uma figura brilhante. Do tipo que você precisa conversar usando óculos escuros e um caderninho de anotações. Na segunda-feira, 24, noite de abertura do Festival de Curitiba, usou um conjunto cravejado de lantejoulas que o destacava como um pequeno sol na plateia de 2,4 mil lugares do Teatro Positivo.

Ao fim da peça “Os Mambembes”, dominou o palco rapidamente, falando sobre quitutes e sobre a não rara necessidade humana primal de beber um gim-tônica. Pouco tempo depois, foi visto saltitando nos arredores do lago da Universidade Positivo, ao som do carimbó, no meio da festa que encerrou os trabalhos.
Na manhã seguinte, trocou a roupa de noite por um estampado não menos chamativo e um búzio gigantesco pendurado no pescoço. Chegou na Sala de Imprensa Ney Latorraca, do Hotel Mabu, sem sapatos e segurando uma xícara de café apenas com o dedo indicador e o polegar opositor, à maneira de uma senhora inglesa bebendo o chá das cinco.

De chofre, sem dar chance pra alguma interrupção, engrenou um monólogo de alta voltagem sociológica: “A geografia da cidade é uma disputa de poder. Eu estava pensando nisso ontem. Nas cidades, os teatros servem pra você colocar os loucos. Mas no Festival de Curitiba o teatro sai pras ruas, pras praças, pros bares. É como o que acontece na Marquês de Sapucaí, quando o morro desce pro centro e mostra que também é bonito, não é só notícia ruim. O Festival balança a roseira”, sapecou.
Mais comedido do que nas transmissões do carnaval da Globo, em que saca da manga adjetivos como “babilônico”, “cleopátrico” e “mesopotâmico” sempre que a oportunidade aparece, não deixou de carregar no superlativo ao falar de uma de suas grandes paixões, o Festival de Parintins – ao qual dedicou, inclusive, os anos de estudo de um doutorado. “Passei 63 anos estudando pra virar meme de carnaval”, brincou.
+ Leia Também + Uma nova edição para um clássico de Simone de Beavouir
“Existe um desprezo contra a cultura popular, como se aquilo não tivesse uma estrutura narrativa. Parintins é muito complexo, muito sofisticado”, garantiu, agora a sério. “As folias populares refletem a problemática, a grandeza, a delícia da população. É impressionantérrimo.”
Durante a conversa, Milton Cunha também defendeu o conceito de “lugar de fala”, que dá maior ou menor importância às considerações públicas de um indivíduo a depender de suas experiências de vida e da posição que ocupa socialmente.

Para ilustrar, o comentarista citou a lenda linguística segundo a qual a palavra forró teria surgido da expressão inglesa “for all” (“para todos”) por conta das festas que os norte-americanos davam no período em que mantiveram uma base militar em Natal, no Rio Grande do Norte. “Não dá, o nosso forró tem 500 anos. Parece que existe um plano demoníaco pra tirar isso da gente.”
E foi além: “As escolas de samba japonesas tocam e dançam muito bem, mas fazem isso por imitação. As passistas australianas, que são belíssimas, uns galalaus de 1,80m, sambam pra caramba, mas também fazem isso por imitação”, advertiu. “Elas não carrem o que precisam no sangue, não tem a tal ancestralidade, o impulso atávico de dançar, como as nossas, não criaram o que a nossa negritude criou.”
Por fim, arriscou uma previsão: “Estamos caminhando pra um mundo que vai ser um luta generalizada por lugar de fala. E isso está certo. Não dá mais pra um branco pintar o rosto e fazer papel de preto. Isso acabou.”