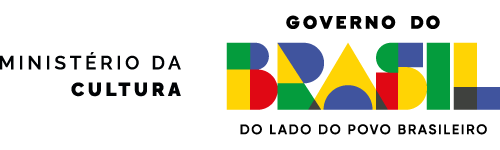Nas casas com cômodos divididos por cortinas, e não por portas e paredes, os mortos e os vivos costumam conviver harmoniosamente. Este dado do realismo fantástico brasileiro foi um dos aprendizados que “Bom Dia, Eternidade” trouxe ao recém-encerrado Festival de Curitiba, que tem patrocínio da Petrobras..

A casa da cenografia da peça do coletivo O Bonde me fez pensar, como há muito não fazia, na casa da minha avó, em Porto União, que já foi derrubada.
Lá, como no palco, as cortinas coloridas que dividiam os quartos dos corredores não impediam que a memória invadisse o presente e o passado interferisse no real. Que alguém que já não há se sentasse na mesa do café e nos quintais das nossas casas.
Aliás, o quintal como espaço social essencial da brasilidade foi outro tema a rondar o festival. Seja pela já citada peça que começa e termina com samba do Fundo de Quintal ou em “O Fim É Uma Outra Coisa”, em que palco e plateia viram cozinha e quintal da multiartista Zora do Santos.

No pequeno Teatro Cleon Jacques, cercado de onças de João Turin, Zora ensinou que toda a cozinha brasileira é “preta e indígena” e como fazer um feijão com molho de banana-da-terra à moda dos quilombos e reizados mineiros.
Antes, ela também lembrou do tempo em que havia “noites, galos e quintais” e as famílias comiam as plantas que serviam de cercas às suas casas – a mesma urtiga que afastava os bichos temperava a costelinha de porco.
Em outras peças, a plateia pôde ingerir parte do cenário, o que – somado a momentos similares nos últimos anos – parece consolidar uma tradição de trazer a cozinha para a caixa cênica.
Em “A Última Ceia”, o elenco reproduziu a famosa cena do X9 quintessencial Judas entregando a cabeça de Jesus após comer frango com batatas. Em “Monga”, a plateia ganhou uma dose de cachaça branca do Ceará.
Em “Júpiter e a Gaivota”, o elenco queria fazer um espetinho no palco do Guairinha, o que não foi permitido pela legislação penal. O espetinho só foi pra brasa mesmo no Nina, na calçada da rua Marechal Deodoro – que tem a maior pinta de avenida, mas é rua.

Antes, a diretora da peça, Ada Luana, tinha contado que inflamara hostes conservadoras do teatro russo, na ditadura Putin em plena guerra, ao mostrar a sua (sub)versão feminista de Tchekhov, no mesmo teatro onde o genial autor lançou, sob vaias, seu texto mais famoso.
O espectro da “gaivota”, porém, já andava rondando o Festival de Curitiba, pois servira como mote para “Gaviota”, de Guillermo Cacace, e como centelha criativa para Renata Sorrah, Marcio Abreu e a Cia Brasileira de Teatro.
Nesta peça, Ao Vivo (dentro da cabeça de alguém), Rafael Bacelar rouba a cena com um personagem que – ouvi de mais de uma pessoa e não apenas dentro da minha cabeça – poderia ganhar um monólogo próprio que explorasse suas muitas possibilidades como ator.
Na serra da atuação houve muitos cumes, mas meu coração clubista e bairrista bate forte mesmo pelos atores da minha aldeia: Sidy, Simone, Laís, Kauê, Helena e muitos outros.
Mas não brilharam tanto quanto o elenco de “A Velocidade da Luz”, com a imparável Dona Mide à frente.

Durante a segunda sessão ópera “fandango-punk” com atores idosos, na tarde de domingo, houve um momento de dor: uma das atrizes, Elza, sofreu uma queda e sentiu uma, depois confirmada, fratura no tornozelo.
O diretor argentino Marco Canale a consultou se deveria parar o espetáculo, e a atriz disse que não, e que os colegas deviam continuar, antes de sair de cena, heroicamente, numa maca, sob a maior ovação que se ouviu nesta edição do Festival.
Eis uma lição antiga, mas inescapável: o show, a peça, a vida precisam e vão continuar. E todos os cuidados e melhoras para Elza.
A Velocidade da Luz foi um exemplo de como o teatro pode interferir no cotidiano da cidade e transformá-lo.
A verdadeira utopia da arte encontrando o povo sobre a qual o fenômeno Milton Cunha tanto falou nos feéricos dias em que atravessou o Festival como um cometa lantejoulado:
“A geografia da cidade é uma disputa de poder. Nas cidades, os teatros servem pra você colocar os loucos. Mas no Festival de Curitiba o teatro sai pras ruas, pras praças, pros bares. É como o que acontece na Marquês de Sapucaí, quando o morro desce pro centro e mostra que também é bonito, não é só notícia ruim. O Festival balança a roseira”, sapecou Cunha.
E nisso, de balançar a roseira e ocupar as ruas, o ponto alto foi a Mostra Surda e todas as circunstâncias que envolveu.
Como de costume, o Festival fez Curitiba mostrar suas caras entre as quais, a minha preferida, “cinza e linda” como no blues de Mário Bortolotto.

Houve outras tantas lições apreendidas, mas já é hora de apagar a luz, pois como disse um “vivinho e lampeiro” Gregório Duvivier: “só uma língua que inventou a saudade podia inventar a despedida”.
Ano que vem tem mais.