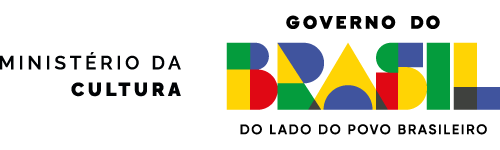Texto publicado originalmente no Jornal Plural *
Li sobre uma corrente budista que acredita que, em períodos de guerras e catástrofes, quando há muitas mortes e sofrimentos injustos, algumas das almas mais elevadas precisam subir para equilibrar o conjunto e dividir a luz com aquelas que foram levadas violentamente.
Eu, que em geral não creio, me resigno agarrado a essa ideia desde que soube que nosso griô maior, Nelson Sargento, também subiu. Mesmo já esperando a notícia, confesso que caí no chão para chorar junto com o que sobrou de país.
Nelson foi um sonho que a gente teve. Um artista popular e genial que só poderia ter existido no Brasil do nosso tempo. Nascido perto da “pequena África”, na zona portuária do Rio, 36 anos depois do fim da escravidão. O destino dançou o miudinho e o levou do Salgueiro para o morro da Mangueira, para perto da música.
+ Leia também + A Pequena África redescoberta
Nelson virou Sargento no Exército – no tempo em que havia comunistas fardados – e trabalhou muito em diversos ofícios, principalmente como pintor de paredes. Demorou cinco décadas para que fosse reconhecido como músico e poder viver da arte em tempo integral.
Desde então, porém, passou outras cinco sendo um artista brilhante em muitas frentes: pintor de quadros belíssimos, ator premiado, escritor de aforismos e poemas, e figura central da música popular.

Nelson era um elo entre o nosso e o tempo glorioso das escolas, quando os gigantes batucavam nos terreiros. Com o velho Sargento, desaparecem para sempre centenas de sambas que só ele lembrava.
Era um cidadão mundo que conheceu de “Cabo a Rabat”. Sabia pisar em qualquer chão, dançar qualquer ritmo. “Somos atores no teatro da vida sem direito de ensaiar”, dizia.
Nelson Mattos também foi meu amigo mais especial e improvável. Desde o ano 2000, quando veio ensinar “composição de samba” numa Oficina de Música.
+ Leia Também + Livro gratuito conta a história de Nelson Sargento em seu centenário
Ninguém sabia o que poderia dar isso, mas eu e alguns amigos nos jogamos. Tinha 21 anos e a cabeça e almas viradas pelo samba, boemia e pela cultura popular.
Naquele fim de século, havia um sentimento nacional de reafirmação do samba acontecendo ao mesmo tempo em todo país. Havia batucada no ar, além dos passarinhos, e uma onda política de esperança.
Em Curitiba, o selo Revivendo, de Leon Barg, era uma das partes que nos cabia neste zeitgeist. E havia o Gente Boa da Melhor Qualidade, banda em que meus melhores amigos e meu irmão tocavam só samba brasileiro das décadas de 1920 a 1950. Nas noites da virada do século, OGBMQ enchia bares, salões de clubes e teatros todas as semanas.
Pois naquele verão, aos 75 anos, Nelson Sargento virou nosso professor no Colégio Estadual do Paraná, ainda que ninguém aprenda o samba em salas de aula. Foi o nosso verão do amor.
Moisés embriagado
Logo me aproximei de Nelson, de seu filho e escudeiro Ronaldo Mattos e de sua esposa Evonete. No primeiro fim de semana, já fizemos um show do Gente Boa com Nelson no Vox, que ainda era na esquina da Saldanha Marinho.
Nos anos seguintes, participei da produção de alguns shows do Nelson em Curitiba. Um deles, especialmente antológico, no extinto salão do Clube Urca, na rua Alberto Folloni, para quase 4 mil pessoas.
Um dos momentos auge da minha existência foi atravessar o salão lotado depois do show com Nelson segurando meu ombro, enquanto eu abria caminho na multidão como um Moisés embriagado.
No outro ombro, a alça de seu violão ainda quente. Durante nosso lerdo escoamento, a galera abria caminho fazendo gestos de reverência. Glória e consagração no Ahú.
Eu era o motorista oficial da família Mattos em Curitiba, usando o Pálio azul-calcinha de minha saudosa mãe, que o Nelson batizou de “o possante”.
Foi com o possante que desci a estrada da Graciosa levando Nelson e Ronaldo para Antonina, onde o velho Sargento foi a atração principal do Festival de Inverno de 2004.
Tínhamos vouchers para comer no restaurante Madalozo, e comemos um barreado à beira do Nhundiaquara, com o Nelson contando histórias da Mangueira e de suas viagens pelo mundo.
Lembro que, na empolgação da pinga de banana, pedimos que o garçom fizesse o infame “teste do xampu” e ele escolheu a cabeça brilhante do mestre para a brincadeira. No final de toda a patuscada, Nelson só conseguiu dizer: “Puta que o pariu”.
Quando chegamos no hotel, ele observou: “Ah, que bela e provinciana cidade. Parece o Brasil da minha infância. Será que o banheiro é coletivo?”Fizemos mais um show no Cine, no ano seguinte, sempre com o Gente Boa. Lembro que, depois de toda a trabalheira na produção do evento, conseguimos pagar a todos e sobrou o valor de duas cervejas para cada um dos sócios. Saúde.
O samba é triste para que a gente não seja
Antes, eu tinha ido sozinho para o Rio passar o réveillon de 2002 com o intuito de achar um lugar para morar e, claro, me perder um tanto naquelas ruas de um Brasil que não existe mais.
Liguei para o Nelson, que me chamou para passar a ceia com sua numerosíssima família no apartamento em Copacabana. “Mas venha cedo, logo depois do almoço”, ele advertiu.
Cheguei na hora sugerida e achei de bom tom levar um fardo de cervejas geladas. Evonete agradeceu, mas disse: “Tudo bem. Só que o Nelson não pode beber”.
Nelson então colocou o CD com as músicas que seus “alunos” gravaram naquelas tardes no Estadual, e ficamos ali com nossas Brahmas – ele bebia escondido em goles fulminantes que esvaziavam de um só golpe o copo americano. “O teu samba é o melhor”, ele disse fingindo que gostava. Eu fingi que acreditei.
Passei a última tarde do ano ouvindo o disco Jamelão canta Lupicínio com o maior sambista brasileiro. “O samba é triste para que a gente não seja”, ele ensinou.
Depois, nos reencontramos ainda muitas vezes no Rio ou nas diversas visitas de Nelson para “rever a juventude paranaense”.
Quando eu tinha um telefone fixo, ele muitas vezes ligava passando trotes, sempre sagaz e sacana.
Em 2016, a rapaziada do Samba do Sindicatis trouxe o Nelson para uma roda de samba apoteótica, cujos registros do fotógrafo José Carlos Branco estão me fazendo chorar de novo.
Nos vimos pela última vez em 2019, nos ensaios do show de sua turnê de 95 anos.

Naquela tarde, ele me contou que tinha trabalhado como pintor para a família Munhoz da Rocha nos anos 1960. E que estava assustado com “as transformações sociais pelas quais o Japão estava passando”, e que ele quase não tinha reconhecido o “país do sol nascente”, de onde acabava de chegar.
Sobre as dores do Brasil, nem quis falar, parecendo pressentir algo.
Não fosse a pandemia, Nelson teria provavelmente morrido no palco.
Com ele, partiu também a memória dos últimos 100 anos de música brasileira, toda guardada na cabeça mais ágil e bem-humorada da pessoa mais brilhante que conheci.
Fica a sensação de que tudo que a gente ama está destruído ou exilado, e que precisa ser reconstruído “pra frente e rápido e, se possível, bem-feito”, como o mestre sempre dizia.