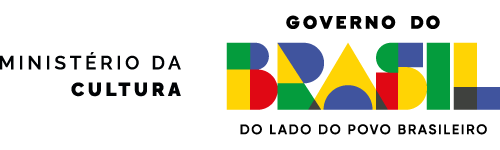Por Gabriel Costa, especial para o Fringe
Em 2009, o sociólogo Jessé Souza cunhou o termo “ralé” para se referir a uma classe brasileira estruturalmente desfavorecida, cujos membros enfrentam desafios como baixa escolaridade, falta de acesso a serviços básicos e ausência de oportunidades de desenvolvimento. Ser da ralé é ser invisível para a sociedade. Cabe a eles tentar viver as próprias vidas sem ajuda do Estado e das demais classes do país.
O filme A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert — diretora de Que Horas Ela Volta? —, conta uma história típica da ralé brasileira. Gal, interpretada por Shirley Cruz, é uma catadora de lixo que apanha do marido Leandro e tenta fugir de casa com os dois filhos para viver uma vida um pouco menos difícil.
+ Leia Também + A luta por moradia em ‘Tijolo por Tijolo’
Mas, além do carrinho, Gal pouco possui. O que sobra para ela é tentar maquiar a situação para seus filhos e para si mesma. Em uma jornada que mescla ficção e realidade, a família atravessa as ruas de São Paulo na tentativa de chegar a um oásis em meio à selva de pedra. É aí que mora uma das grandes qualidades do filme de Muylaert: A Melhor Mãe do Mundo é uma obra profundamente urbana.

Para ficcionar a situação aos filhos, Gal não poupa esforços. Logo no começo do filme, é perceptível a importância do futebol. Há Corinthians por toda parte, e não necessariamente por causa do esporte. Neste caso, ele funciona como uma forma de esperança, um motivo para continuar. E sua arena, um objetivo final, como se tudo fosse dar certo quando a enxergassem.
Por várias vezes, Muylaert posiciona a câmera de frente ao carrinho, enquanto Gal o arrasta com os filhos em cima. Tal artifício, combinado com a atuação propositalmente exagerada de Shirley Cruz, faz os personagens se tornarem mais do que são. A mise-en-scène do filme ajuda a potencializar a sensação de que a família é parte inseparável daquela paisagem paulistana, mesmo que, na verdade, não pertença àquela sociedade. Afinal, não deixam de ser ralé para os outros.
Uma crítica comum a filmes do tipo é que estariam espetacularizando a pobreza. De fato, em A Melhor Mãe do Mundo, a composição das cenas é bela, e Gal se torna uma heroína. Mas Muylaert nunca deixa de mostrar a sujeira a que estão expostos — seja material ou humana. Ao longo do caminho, a mãe sofre uma tentativa de abuso. E a maneira como se combinam a realidade da situação, aos olhos da catadora, com a ingenuidade dos filhos, nos permite ver dois lados da mesma história.
O objetivo de Gal é chegar à casa de sua prima, do outro lado da cidade. Para isso, precisa dormir na rua por alguns dias. Neste momento, para ela, pouco importa o que esteja sentindo — o importante é fazer os filhos perceberem tudo como uma grande aventura. E, como toda jornada do herói, ela encontra companheiros pelo caminho.
Em uma das noites na rua, a família cruza com Munda, uma cadeirante que vende itens dos times de futebol de São Paulo. Em uma conversa franca, ela decide dar a Gal seu número de telefone, caso precise de alguma ajuda. A mensagem de Muylaert é clara: a ralé só tem a si mesma.
A São Paulo do filme é caótica, barulhenta e perigosa. Nunca se sabe o que pode vir na próxima esquina — seja um carro, alguém mal-intencionado ou até mesmo Leandro, que funciona como uma presença assustadora ao longo de todo o filme. Seu Jorge entrega uma interpretação muito boa.

Ao chegar à casa da prima, o clima muda. A trilha sonora pesada dá lugar a um samba de altíssima qualidade, e as crianças finalmente sentem uma sensação de segurança. Até então, mesmo com os esforços da mãe, ainda havia dúvidas em relação à “aventura”. Mas é nesse momento que Muylaert decide fazer uma crítica ao que muitos chamam de pacto da masculinidade.
O marido da prima não enxerga as ações de Leandro como erradas — ele é apenas um homem, agindo como tal. Por isso, decide convidá-lo para o churrasco da família.
A presença de Leandro é um susto para todos. O samba “morre”, as crianças trocam os sorrisos por dúvidas, e Gal sente que toda a sua “aventura” foi jogada no lixo.
Em meio a esse cenário, como tantas outras mulheres, Gal se sente obrigada a dar uma chance ao homem. “Ele vai mudar”, ou “ele é assim mesmo”, e até “ele me bate, mas me ama” são frases comuns de se ouvir. Mas, em A Melhor Mãe do Mundo, Muylaert deixa claro: violência não se cura com esperança. E, a partir disso, tenta mostrar um outro lado, que muitas vítimas não conseguem enxergar.
O filme é uma espécie de conto de fadas urbano em plena São Paulo. Após fugirem novamente de casa, a família começa a ouvir fogos de artifício. Um rádio anuncia: é dia de Corinthians. Desiludidos, sentam-se no meio-fio, à espera de um milagre — que vem. Um homem, montado em um cavalo branco — como São Jorge, padroeiro do clube — decide levá-los à Arena.
A partir disso, é possível tirar duas conclusões: na vida real, a ralé não tem essa sorte. E a Arena é lugar de quem tem dinheiro para ver o jogo. Mas o que é o cinema, senão um palco para sonhar? Muylaert não engana sua audiência, apenas oferece a Gal, como personagem, um momento de alívio.
Mas não é na Arena que está o oásis da família. Nas últimas cenas, temos a volta de Munda, apresentando a eles um quartinho em um prédio. Logo fica claro: aquilo é uma ocupação. Em um Brasil que demoniza movimentos como o MST, A Melhor Mãe do Mundo vai na contramão. Afinal, são lugares como esses que ainda oferecem dignidade para muita gente.
A história de muitas mulheres termina na volta do marido, na “passada de pano” de um familiar. Mas não é isso que Muylaert quis retratar em seu filme. Ela escolheu contar um conto de fadas urbano, sujo e impossível — e ela provavelmente sabe disso. Mas a mensagem final é digna de aplausos: não há nada como pertencer. E nem sempre sua família é quem vai te oferecer isso.
A ralé de Jessé Souza é a mesma de Anna Muylaert — e perceber isso é um passo importantíssimo para não ver o filme como um espetáculo da pobreza.